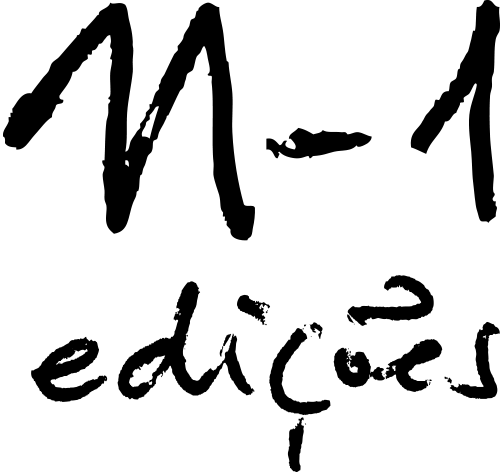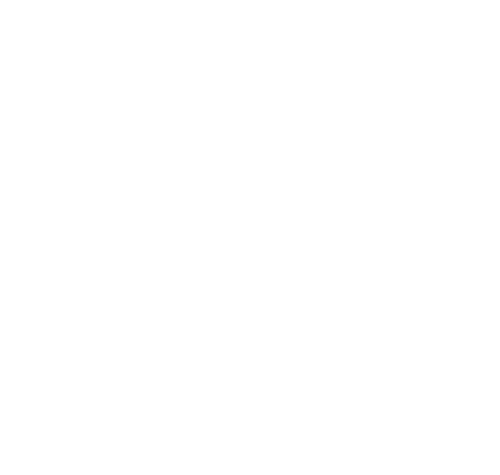Vivências e teatralidades do grupo de artes Dyroá Baya
Anderson Kary Báya e Dayane Nunes
As diversas vivências do grupo durante esses dezoito anos nas artes cênicas é de pura aprendizagem em meio a turbilhões de diálogos, relatos, fatos e resiliência. Durante os sete anos que faço parte do grupo, pude observar muitos pontos potentes dessas vivências cênicas. Uma delas é forma de interpretar que é sensível e de pura veracidade e força cênica em cada apresentação. Pontos estes que nomeio como combinações cênicas em muitas montagens e apresentações que o grupo teve de utilizar da improvisação teatral para não perder o foco da cena por meio da língua tukano. Em todas as propostas, usamos a língua tukano, a mais falada entre os indígenas do Alto Rio Negro/AM, e para os não indígenas entenderem falamos a língua portuguesa – Brasil. Acredito que falar textos na língua tukano é pura resistência nesses tempos que estamos vivendo.
A teatralidade para os indígenas está inserida em suas manifestações artísticas como dança, música e teatro, não estão dissociadas, já que essas linguagens se potencializam mutuamente em seus rituais e, no caso do grupo de artes Dyroá Báya, também em suas montagens cênicas feitas para serem apreciadas pelo público como forma de manter e divulgar sua cultura. Mesmo que eles não as denominem, a teatralidade é presença marcante e evidente em seus manifestos. A seguir, o líder do grupo descreve sobre sua trajetória artística.
Nascido em Iauaretê – Rio Uaupés – Amazonas, Kary Báya nome em língua Tariano, Kary era o nome de um dos deuses Dyróas, o caçula dos três filhos da espuma do sangue do trovão, que ficaram conhecidos como Dyroás. Depois do nascimento deles e, atualmente, fazem parte da etnia Tariano e Baya é uma denominação dado aos artistas do Rio Negro, Waupés e afluentes, esses artistas para serem conhecidos como Bayas têm de ter conhecimentos como: cantos sagrados, danças e grafismos.
Escolhi ser Kary Báya porque o Deus Kary era um ser destemido, inteligente, lutava para manter seu clã vivo e báya eu sempre quis ser porque adoro cantar as canções antigas e a arte indígena do meu clã.
Saí da comunidade em que nasci em 2002 para morar em Manaus, capital do Amazonas, e em 2003 iniciei como Baya (artista), porque nesse ano meus pais foram convidados para fazer apresentações em um hotel de selva e nesse local fiz minhas primeiras apresentações como artista, aos 12 anos. O que eu sentia era felicidade dando aquelas pisadas no chão sem sandália, só de Wa’sókiró (tanga), com pinturas em meu rosto e meu corpo se enchia da energia dos meus ancestrais! Em 2004, conheci o mundo do cinema e participei do meu primeiro teste. Nessa época, o produtor apenas tirou foto e me perguntou: você pode furar a orelha? Eu: nada respondi.
Meus pais tinham me mostrado o que era ser um artista, furaram a orelha e eu aguardei o final dessa seleção e não passei, mas continuava a fazer as apresentações com meus pais e outros parentes mais velhos que mantinham o conhecimento, mesmo morando na cidade, e aprendi muitas músicas, grafismos, danças e mitologias do meu clã. Ao entrar na adolescência, fase em que tive uma crise de existência, pois sofria preconceito por ser indígena, recebi muita força da minha família, que mantinha viva as nossas tradições e lutava contra esse preconceito na cidade de Manaus.
Em 2006, meu irmão me apresentou à Cia. Uatê, na época, uma companhia de dança, e eu fiz parte de uma das apresentações do espetáculo Objeto Ritual, a primeira vez que tive experiência de ser dirigido por um diretor, falando o que eu tinha que fazer. Antes fazíamos do nosso jeito, o jeito indígena de demonstrar as coisas para o público. Fiz umas duas apresentações na Uatê e depois saí da Cia.
Conheci o teatro quando recebi o convite do diretor Nonato Tavares, da Cia. Vitória Régia, e nesse primeiro contato aprendi que o palco é um local sagrado onde não podemos entrar de sandália a não ser que faça parte do figurino da personagem. Também aprendi que não pode passar na frente do colega de cena a não ser que seja a proposta e foi lá que aprendi que o diretor é o pai da peça toda e até gritar e reclamar ele pode, mas, nesse momento, isso não me agradava e por esse motivo desisti, preferi ser apenas um figurante.
Graças à Companhia Vitória Régia, conheci o cinema quando participei do curta “A cachoeira”, do diretor Sergio Andrade, fiz alguns trabalhos com ele e fui conhecendo melhor como é atuar para uma câmera. Depois desse encontro, participei de alguns curtas e em um dos testes que fiz para o filme “Xingu”, de Fernando Meirelles, conheci a Cia. Pombal, do diretor Luiz Vitali, que tinha como foco dramaturgias com a temática indígena.
No primeiro contato, ele me fez sonhar em ser um grande ator, iniciamos um trabalho chamado Iapinari, ensaiamos alguns meses e aprendi sobre as poses e como se portar como ator no palco. Nunca esqueci uma coisa que ele dizia: “Cuidado Kary Báya, índio besta pra mim é morto”, repetia várias vezes e isso ficou na minha mente. E eu dizia para mim mesmo: “eu não quero ser besta”. Continuamos os ensaios, mas eu não cheguei no final do espetáculo pelo processo orgânico da vida. Na época, eu era muito confuso com o meu lado artístico, eu não me achava um ator, creio que de tanto os companheiros de trabalho falarem que não atuávamos e sim vivíamos o que fazíamos no dia a dia. Sentindo-me sem talento como ator, procurei novos rumos e fui trabalhar como segurança em um shopping de Manaus. Quando estava levando a vida longe da arte, eu sentia um grande vazio como se uma parte de mim estivesse fugindo.
Um belo dia, encontrei uma conhecida da família e ela me fez um convite para ir dar uma oficina de danças indígenas do Rio Negro para os membros da Companhia dela, a Uatê, e como eu tinha uma rotina de casa-trabalho-casa, para dar uma saída, eu resolve aceitar o convite e ir realizar essa oficina e foi lá que conheci Dayane Nunes, uma jovem atriz, estudante de teatro na Universidade do Estado do Amazonas. Ela esclareceria todas as minhas dúvidas sobre o meu jeito de atuar, me ensinou que eu também usava as mesmas técnicas que os outros atores usavam sem perceber como a de Brecht e de Constantin Stanislavski.
Quando conheci os métodos de atuação e depois que conheci a Dayane, desenvolvi meu lado criativo, de iniciar a montar nossas próprias peças de teatro, performance, como Mahmiasé, Tiadiari Mahsa e Tíona – o impacto da tecnologia, e assim nos tornamos parceiros de trabalho e de vida até hoje, mas faltava algo em mim para que eu pudesse falar “sou ator” e quando fui para Madri fazer um curso de atuação para cinema com Miguel Casal e lá fizemos um exercício de imitar os animais, todo animal que ele falava eu imitava e no final ele disse: “isso é ser ator, fazer o que tem de ser feito, sem pensar muito”. Foi quando percebi que poderia fazer qualquer personagem sem medo porque era ator, eu tinha medo de fazer um papel do sexo oposto, mas desde aquele dia percebi que poderia fazer qualquer personagem.
Com meus vinte e cinco anos, assumi a minha profissão como ator e olho para trás, para aquele menino de quatorze anos, quando pisou no palco pela primeira vez, e só agradeço. Sou grato também à Dayane, minha esposa, e a minha família toda que sempre esteve ao meu lado e me fizeram o artista que sou. Gratidão às novas oportunidades que eu e o grupo estamos vivenciando em São Paulo nesses dois anos de puro envolvimento e diálogo dos nossos saberes ancestrais artísticos. A seguir, a produtora e a atriz do grupo relata sua trajetória artística.
Dayane Nunes, nome indígena Yepario (mãe da terra), povo Tukano – Manauara, atriz desde 2010, vem galgando na área artística, entre oficinas e trabalhos com a arte teatral como na sua maioria em espetáculos e performances. Licenciada em Teatro e Bacharel em Turismo, há seis anos vem se aprofundando, dialogando e ecoando os saberes da arte teatral com a cultura ancestral das etnias Tukano e Tariano.
Minha trajetória artística começou quando fui estudar no centro da cidade de Manaus. No segundo ano do ensino médio, participei de um grupo de teatro chamado Gruta, em 2010 fiz um curso livre de teatro no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e, em 2011, fui convidada para adentrar na Cia. de Teatro Arte & Fato. Participei de três espetáculos da Cia.: “Ventos da Morte”, “A Casa de Bernarda Alba” e “A Estrada”.
“A Estrada” foi a que mais contemplou a minha ancestralidade, por ser um mergulho na cultura indígena, relatamos a história do povo Yanomami e suas formas de sobrevivência e resiliência de uma época de destruição de seu território. Isso foi em 2014 e neste mesmo ano participamos do Festival de Teatro da Amazônia, realizado no Teatro Amazonas e ganhamos como o melhor espetáculo.
Foi um período muito ativo, artisticamente falando, era um ano de Copa do Mundo e apresentamos os espetáculos, que eu participava como atriz, na amostra. Apresentei no Teatro Amazonas a peça áurea “O Ouro da Amazônica, Objeto Ritual”, da Cia. Uatê. Em uma praça, um espetáculo envolvente que tinha muita expressão corporal, “Nós Medéia” foi apresentado no Teatro Amazonas. Foi nesse mesmo ano que conheci o Kary Báya. A diretora da Cia Uatê convidou-me para participar de um momento festivo, num lugar chamado AMARNI, que fica localizado na zona leste da cidade, foi neste lugar que nos conhecemos e a partir daí criamos laços de amizade e de vida.
Ele colaborou e muito nos meus processos de aprendizagem tanto nos espetáculos, quanto acadêmicos, pois neste ano cursava licenciatura em teatro na Universidade do Estado do Amazonas. Foi neste período que mergulhei cada vez mais na minha ancestralidade e em ser autêntica em minhas propostas cênicas. Conheci a família Tariano e foi um presente ancestral. Passado um tempo, Kary e eu criamos laços mais fortes e fortalecemos a união com uma linda cerimônia de casamento indígena, formando nossa família a partir daí e é com ele que aprendo, a cada dia, que indígena é indígena em qualquer lugar e que nós vivemos com nossa arte que é a maior riqueza cultural que temos.
Com o Grupo de Artes Dyroá Bayá pude realizar, na prática, muitas criações artísticas e que foi muito importante para minha trajetória. Fomos, por muito tempo, resilientes em Manaus, mas chega um certo momento da vida que é necessário ir em busca de novos rumos e oportunidades, foi então que Kary Báya veio para São Paulo e tudo mudou, não demorou muito e eis que, desde 2019, estamos nesse território que também é indígena e seguimos dialogando e ecoando nossos saberes por meio do teatro e áreas afins. Como sempre falo, os indígenas são artistas e seguimos colocando em prática nosso ofício. Cultura indígena é envolvida com as artes integradas. Ayú! Nome indígena Yepario (mãe da terra) e (obrigada na língua Tukano).
AUTORES
Dayane Nunes Yepario e Anderson Kary Báya, o grupo de artes Dyroá Bayá, etnia Tariano do 3o clã, Iauaretê, noroeste do Amazonas. Mudou-se para Manaus em 2003 e desde então vem trabalhando com a divulgação de sua cultura, por meio de oficinas, apresentações, conferências, mostrando sua arte ancestral para a sociedade atual. Desde janeiro de 2019 tem sede em São Paulo, atuando e ecoando seus saberes ancestrais para mais lugares.