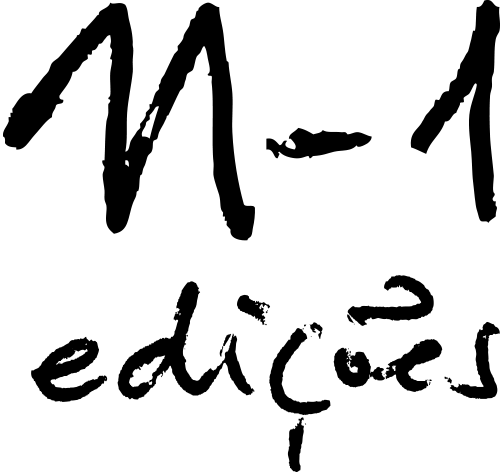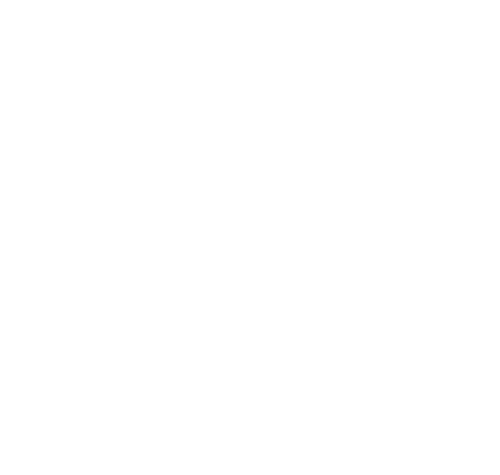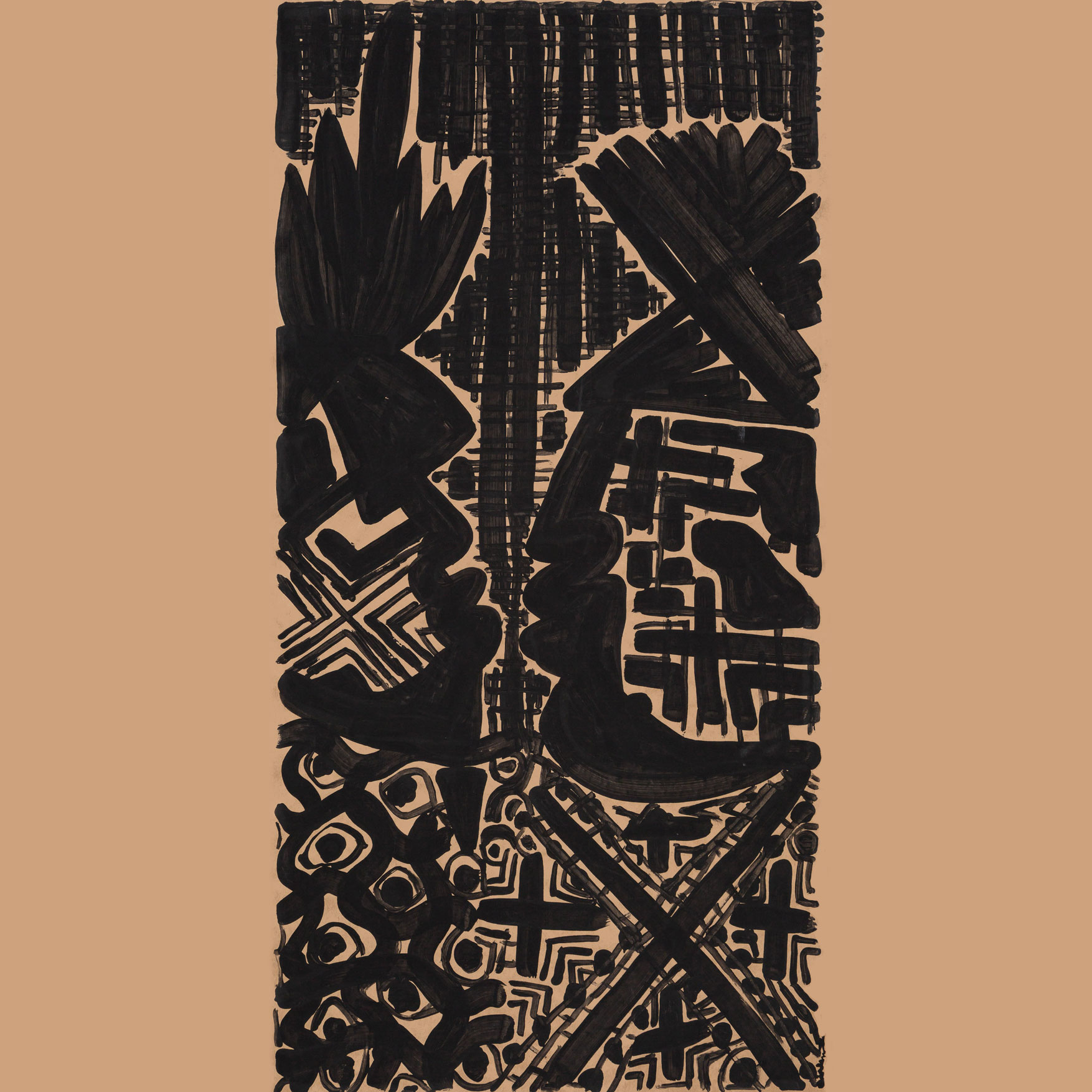
Janduí: identidade e ancestralidade em Kõkamõu
José Ricardo Roberto da Silva
OITICICAS
Cantar, dançar e viver a experiência
mágica de suspender o céu é comum
em muitas tradições. Suspender o
céu é ampliar o nosso horizonte; não
o horizonte prospectivo, mas um
existencial. É enriquecer as nossas
subjetividades, que é a matéria que este
tempo que nós vivemos quer consumir.
Se existe uma ânsia por consumir
a natureza, existe também uma por
consumir subjetividades – as nossas
subjetividades (KRENAK, 2020, p. 15).
Proxikimen Foi odé Proxikimen Canque Proxikimen Karé cuinenengo poriú: Proxikimen Toipe1.
Você já se olhou no espelho hoje? O que você percebeu?
Levanto-me da cadeira, observo a primeira vez e saio. Repito a mesma ação mais duas vezes. Noto que na última vez, entro em um transe enigmático sobre mim mesmo. O fenótipo (a imagem física de um determinado povo) aparece para mim. Será que realmente o que vejo é o que sou ou uma imagem quase que imperceptível de uma história? Preciso ir mais fundo ao exercício… Longe de ser uma observação narcísica, o ato de ir ao espelho revela um encontro: o de si mesmo com o passado. Afinal, somos seres históricos. Cada um possui uma narrativa anterior. Alguns se interessam em saber mais sobre essa anterioridade, fazendo pesquisas, buscas fotográficas, ouvindo atentamente os seus, ou até mesmo pagando rios de dinheiro em laboratórios que supostamente possuem bancos de DNA de diversos povos do globo terrestre, outros preferem recriar a história pela via da ficção.
Recriar uma história ou “cascaviar” os restos do passado, é um processo longo e contínuo. Peço licença aos encantados, aos parentes e a todos para apresentar as recriações artísticas que compõem a minha história. Pegue seu tamborete, traga a xícara para o café e venha saber mais sobre Janduí: Identidade e Ancestralidade em kõkamõu.
Eu cresci e morei na cidade de Janduís/RN até os meus 19 anos, época em que optei por fazer faculdade de teatro na cidade de Natal, também no Rio Grande do Norte. A cidade de Janduís localiza-se a 286 quilômetros de Natal. Possui uma população estimada em cerca de 5.386 habitantes e pertence à região intermediária de Mossoró/RN, no médio oeste potiguar. Desde muito cedo, escutava a narrativa oficial do surgimento da cidade. Nas escolas, os professores contam que Janduís nasceu de um antigo povoado chamado São Bento Velho, pertencente às terras de Canuto Gurgel do Amaral.
Canuto, grande fazendeiro da região, construiu o povoado às margens do rio das croas. Ainda segundo os registros oficiais, a cidade povoa-se a partir da construção de uma igreja em homenagem a São Bento por volta de 1912. Janduís também já foi chamada de Distrito Getúlio Vargas, antes de ser desmembrada do município de Caraúbas-RN, tornando-se município em 12 de junho de 1962.
O mito fundador, a história da construção da igreja (capela São Bento), a promessa ao santo para acabar com as cobras, entre outras coisas, sempre me incomodou porque anula completamente a existência de populações originárias em um local que tem por nome uma comunidade indígena. Para mim, aquilo não batia com as histórias de rapto, sequestro, estupro e aculturação que passou à minha bisavó. Não reconheço nesta narrativa um elo entre tradição oral e discurso oficial. Na verdade, o discurso sempre foi o dispositivo de dominação da história pelos poderosos, como brevemente nos mostra Michel Foucault (1996):
Por mais que discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – como a psicanálise nos mostrou que não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar (FOUCAULT, 2012, p. 10).
O discurso se torna, portanto, um instrumento de dominação dos poderosos. Hoje em Janduís existem várias escolas, ruas e prédios públicos importantes nomeados com os descendentes diretos de Canuto Gurgel do Amaral. Porém, é importante conhecer a outra história, uma outra perspectiva sobre a ocupação de Janduís. Nenhuma cidade é simplesmente ocupada, como se fosse um espaço vazio, ignorando qualquer reminiscência indígena.
A outra história nos mostra que a cidade tem sua origem nos povos Tarairiús, que habitavam as margens do rio Piranhas-Açu; atual município de Assu-RN. Cada aldeamento dos povos Tarairiús recebia o nome dos seus chefes; sendo assim, Janduí se tornou o nome de uma das várias aldeias Tarairiús recebendo o nome do seu chefe: Janduí. Segundo Olavo de Medeiros Filho (1999): “Os seus liderados passaram à nossa historiografia sob a denominação de janduís, ou janduins. Os próprios tarairiús se autodenominavam de otshisca y a ynoe (1999, p. 243)”.
O fato da história oficial ter sido escrita sob a ótica dos colonizadores, na sua maioria padres ou emissários da coroa portuguesa, nos permite analisar as denominações dos povos que habitavam o interior do RN, com certa desconfiança. Porém, é inegável não admitir alguns pressupostos básicos. Os tapuias (denominação genérica) eram os povos que habitavam o interior, enquanto os tupis, habitavam o litoral. Ainda segundo Olavo de Medeiros Filho (1999):
Os mais abalizados estudos apresentam como tendo pertencido ao grupo tarairiú as seguintes tribos tapuias, muito citadas em nossa historiografia nordestina do período colonial: Janduís, Arius ou Pegas (liderados pelo “rei” Pecca), Sucurus, Canindés, Jenipapos, Paiacús, Panatís, Javós, Camaçus, Tucurijús, Arariús e Coremas (MEDEIROS FILHO, 1999, p. 244).
Os tarairiús tinham antigos hábitos que foram registrados em documentos históricos coloniais, tais como: regime nômade de vida, exímio domínio da caça e da pesca, capacidade de adaptação ao clima semiárido, uso de ervas, escarificações cutâneas e sucções bucais para provocar vômito. Há também na história muitas menções sobre a participação dos trarariús- janduís, aliados aos holandeses no levante entre meados do século XVII e início do século XVIII, que ficou conhecido como “guerra dos bárbaros”. Segundo Leonardo Guimarães Vaz Dias (2001):
A Guerra dos Bárbaros foi um conflito entre vários grupos indígenas do grupo linguístico macro-jê unidos naquela que ficou conhecida como Confederação Cariri e as forças colonizadoras portuguesas na América. Este conflito durou mais de meio século e foi responsável pelo completo extermínio de algumas tribos indígenas e pelo completo desmantelamento das demais envolvidas. Representou a conquista do sertão nordestino brasileiro para o domínio português e o seu uso efetivo na criação de gado, de fundamental importância para a subsistência da sociedade açucareira (VAZ DIAS, 2001, p. 05).
Além da tese de extermínio dos tarairiús na guerra dos bárbaros, enfrentamos ao longo da história o discurso do apagamento étnico por meio da aculturação, miscigenação e perda do sentimento coletivo da identidade indígena no interior do estado. Categorias coloniais como caboclo, mameluco ou pardo, só reforçam esta tese, normalmente legitimada pelos censos nacionais, pela mídia e o universo intelectual acadêmico.
Na abertura deste artigo utilizei como título a oiticica. A oiticica é uma planta da família Chrysobalanaceae, podendo chegar até 15 metros de altura. Em Janduís, temos a oiticica do bode, espaço marcado por inúmeros mitos e mistérios indígenas. Contam os moradores que durante a noite aparecem os “espíritos e as visagens” para os caçadores.
Pois bem, esse breve resumo historiográfico nasce de inquietações oriundas de uma retomada. Um retorno à nascente do rio, às cantigas e histórias da minha avó. Esta busca de natureza autoetnográfica surgiu quando o ato cênico espiritual me ocorreu em seguidos processos artísticos junto ao Grupo Arkhétypos de Teatro da UFRN2 e também na minha última experiência teatral, a leitura dramática de Tybyra: uma tragédia indígena brasileira, texto do autor potyguara Juão Nyn.
PEDRA DA LUA
Minhas primeiras experiências com teatro aconteceram em Janduís com grupos de teatro de rua e peças litúrgicas da igreja. Porém, a minha trajetória artística floresce quando entro na graduação em Teatro da UFRN, no ano de 2016, e por consequência recebo o convite do professor Robson Carlos Haderchpek para participar do Arkhétypos Grupo de Teatro. Na época, entrei no elenco do processo de criação denominado de Ânima3. O diretor Paul Moraes optou por fazer o trabalho de criação utilizando como mote exercícios corporais que partiam do elemento água. Nos procedimentos de criação do Grupo Arkhétypos é comum a escolha de um elemento da natureza como mote criativo, este procedimento corrobora com as investigações do filósofo da imaginação criadora Gaston Bachelard (2013). O autor defende a tese de que “elementos materiais fixam a criação”: “Os pensamentos claros e as imagens conscientes, os sonhos estão sob a dependência dos quatro elementos fundamentais (2013, p.08)”.
Partindo desse pressuposto, os exercícios corporais do início do processo tinham como objetivo experimentar a energia arquetípica da água como possibilidade de fixar esta energia feminina. Arquétipo é um conceito trabalhado por Carl Gustav Jung no seu célebre livro “Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo”, publicado no Brasil pela editora Vozes, no ano de 2014. O pensador da psicologia analítica define arquétipo da seguinte forma: “o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através da sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta (JUNG, 2014, p.14)”.
O mergulho poético na energia feminina trouxe para o meu trabalho recordações e memórias da minha infância, da casa do meu avô Nabor Arruda até as histórias que minha avó Raimunda contava. Essa travessia criativa me possibilitou trabalhar com a imagem4 material da minha bisavó Eulínia. Durante a criação, buscava encontrar gestualidades, vozes, dinâmicas corporais e movimentos que surgiam a partir do pensar na sua fisionomia, algo que Grotowski (2015) chama de processo de reminiscência:
Um dos acessos à via criativa consiste em descobrir em si mesmo uma antiga corporalidade à qual se está ligado por uma forte relação ancestral. Então não se está nem no personagem nem no não-personagem. A partir dos detalhes, é possível descobrir em si mesmo uma outra pessoa – seu avô, sua mãe. Uma foto, a lembrança das rugas, o eco distante de uma cor da voz permitem reconstruir uma corporalidade. Primeiro, a corporalidade de alguém conhecido, depois, cada vez mais distante, a corporalidade do desconhecido, do antepassado. Será literalmente a mesma? Talvez não literalmente, mas como poderia ter sido. É possível chegar lá atrás, como se a sua memória despertasse. É um fenômeno de reminiscência, como se nos lembrássemos do Performer do ritual primário. Toda vez que descubro algo, tenho a sensação de que é algo de que eu me lembro. As descobertas estão atrás de nós, e, para alcançá-las, temos que fazer uma viagem para atrás (GROTOWSKI, 2015, p.04-05).
O contato com a imagem ancestral da minha bisavó Eulínia trouxe para o meu trabalho a figura arquetípica do Xamã e minha aproximação com outro elemento, o fogo. O fogo é o elemento da revelação nas tradições ancestrais, é pelo fogo que os antigos xamãs acessam os chamados “voos celestiais” 5, formas de diálogos com os espíritos. No relato de experiência, Processo Ânima: A Imaginação Material e a Descoberta da Ancestralidade, publicado pela revista Arte da Cena (UFG) de 2018, comento um pouco sobre esse contato de revelação com o fogo, no seguinte trecho:
Não foi fácil descobrir a figura arquetípica do Xamã, cada novo laboratório era uma energia diferente que eu acessava, todas de certa forma estavam conectadas em uma só. Várias lembranças vinham à tona. Eu descobria um pouco mais de mim em cada processo. O fogo e a terra ligavam o tempo presente ao meu tempo de criança. Vozes, ações, devaneios e ruídos me levavam a imaginações diferentes. Eu tive medo durante muitos dos processos; era como se estivesse me conectando a uma zona escura e que não queria acessar (SILVA e HADERCHPEK, 2018, p. 63).
Infelizmente não foi possível continuar com o processo Ânima, entretanto, a figura arquetípica do Xamã foi desenvolvida posteriormente em uma performance ritualística denominada de “JÉ”, meu trabalho de conclusão de curso da graduação em Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e um dos objetos de análise da minha pesquisa de mestrado. Foi durante os laboratórios de criação, ou seja, no espaço da sala de ensaio, onde comecei a me aprofundar na experimentação desta figura e no seu trânsito de criação. O que chamo de trânsito são as variações corporais em constante fragmentação que desenvolvi ao longo do trabalho.
Em “JÉ” trabalhei com o conceito de figura como uma alternativa aos regimes estéticos ocidentais. O corpo em figura me permitia conectar-me com algo que a pesquisadora da Dança Inaicyra Falcão dos Santos (2015) chama de memórias ancestrais. Ainda sobre os regimes estéticos ocidentais, em “JÉ” discute-se o problema da representação na criação artística teatral:
O problema da representação e suas ligações na tradição ocidental: o mimetismo, a projeção e a ficção foram questões que atravessaram toda a reflexão da minha pesquisa. Tinha e tenho muitas dúvidas de como conceber um objeto estético que visa a descolonização do imaginário nas artes cênicas, principalmente como uma alternativa às imagens e às formas estéticas produzidas sob os regimes da tradição ocidental. Entretanto, sou um sujeito nascido e criado na tradição ocidental. Que alternativas eu poderia encontrar? A primeira delas foi buscar uma potência criativa no bojo dos conhecimentos ditos “marginalizados” mergulhando nas memórias ancestrais como uma forma de inverter certos paradigmas de criação cênica (SILVA, 2019, p. 12).
Portanto, neste trabalho, que usei como referencial o campo de discussão dos estudos da performance, trabalhei o conceito de “Comportamento Restaurado”6 proposto pelo diretor e pesquisador Richard Schechner (2006), na interface com o estudo do movimento de matriz ancestral, elaborado pela pesquisadora Inaicyra Falcão dos Santos (2015) no seu estudo interdisciplinar denominado de corpo e ancestralidade. Neste sentido, criei uma performance ritualística que apresentava figuras da minha ancestralidade como matriz poética da cena.
Em “Espólio”, espetáculo teatral realizado em 2019 pelo Arkhétypos Grupo de Teatro, investiguei a relação entre bicho e homem. O espetáculo refletia sobre o mito da criação do universo. A narrativa girava em torno do nascimento do sol, da lua e da herança contida nos objetos de poder que criaram estes astros. Nos laboratórios de construção das figuras arquetípicas usei o fogo como elemento central de transmutação, entretanto, era a sensação de aprisionamento que impulsionava o despertar do bicho. O binômio bicho/animal é uma prática muito comum na infância de muitas crianças indígenas em fase de aprendizado. Aprende-se imitando animais. Este fato nos leva a pensar sobre a importância de discutir o conceito de multinaturalismo, presente na ontologia do pensamento indígena.
O multinaturalismo é uma perspectiva eximiamente trabalhada nos escritos teóricos do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2018). Segundo o autor:
O motivo do perspectivismo é quase sempre associado à ideia de que a forma manifesta de cada espécie é um mero envelope (uma “roupa”) a esconder uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos comutadores perspectivos transespecíficos, como os xamãs (VIVEIROS DE CASTRO, 2018, p. 57).
Portanto, os mestres do transe (xamãs) são responsáveis por cruzarem a barreira corporal entre as espécies. No perspectivismo ameríndio, cada espécie possui uma roupa que esconde uma forma humana. A sofisticação deste conceito rompe completamente com a dualidade ocidental, marcada pelas cisões entre espírito/corpo, mente/corpo ou natureza/cultura. Longe de querer comprovar qualquer hipótese de similaridade entre a minha construção no espetáculo Espólio e o perspectivismo ameríndio, pretendo na verdade corroborar com o pressuposto de que as poéticas indígenas não podem ser compreendidas sem a dimensão espiritual e cultural em que elas estão inseridas. Há de parecer metafísico, porém a minha poética de construção ancora-se no estrito contato entre arte e espiritualidade.
O trabalho simétrico em artes cênicas acontece quando os diversos atores envolvidos dialogam e rompem com relações hierárquicas. Foi assim que ocorreu quando participei em 2020 da leitura dramática de Tybyra: uma tragédia indígena brasileira, primeiro texto de autoria do potyguara Juão Nyn. Além de Juão, tive contato com outros dois indígenas em situação urbana: Yumo Apurinã, da etnia Apurinã, e Brisa Flow, rapper indígena e moradora de São Paulo/SP. Para alguém que busca as pistas da sua ancestralidade estar junto com outros indígenas é fundamental, é uma questão de sobrevivência, de fortalecimento e de demarcação de um território político cultural.
Em yanomami, existe uma expressão para a palavra “juntos” que significa kõkamõu. Para Luiz Davi Vieira Gonçalves (2017, p. 05-06): “A metodologia kôkamõu consiste na participação afetiva e sensorial, fruto da experiência junto aos nativos, construindo o discurso simétrico que, consequentemente, a metodologia sugere às Artes da Cena, ou seja, a descolonização do saber, trazendo visibilidade aos interesses reais dos povos”7.
Em Tybyra: uma tragédia indígena brasileira, realizamos uma leitura dramática composta somente por indígenas. A dramaturgia de Tybyra narra o primeiro caso de morte por Lgbtfobia registrado na história do Brasil. Tybyra, indígena tupinambá, foi morto na boca de um canhão no ano de 1614. Acusado do crime de sodomia, morreu por exercer a naturalidade de sua existência. Ter feito parte do elenco dessa leitura me possibilitou criar redes de laços e de afetos com outros artistas indígenas do país. A peça é um teatro de retomada, uma abordagem que tensiona os padrões e os cânones do teatro ocidental, tanto do projeto moderno, como do contemporâneo. O texto agora é lido por um indígena, escrito por um indígena e tem como temática uma questão política central: a liberdade sexual entre sujeitos indígenas.
Após os trovões, no ápice final do texto, o personagem central da trama levanta e ecoa as vozes da floresta (2020, p.93):
Day-me, porém, um pouco de petun, só quero fumo para que eu morra alegremente, com voz e sem medo. Quero petun e tatá. É mynha forma de dar as mãos ao fogo que me encantará. Atyrem! Atyrem enquanto eu dou as mãos aos meus ancestrays. Cada pedaço do meu corpo esfolado será semente, serey terra. Também serey fumaça, também vagarey pelos ares, lyvre feyto um vento forte… E essa ventanya um dya volta, em outros tempos, de outra forma! Cheya de fome, brocada por justyça! Atyrem!
Dizer esse texto diante do caos dramático em que o país se encontra, sentado em uma cadeira e para um público virtual, foi uma tarefa árdua. Na presente data, 05/05/2021, o número de casos da Covid-19 entre a população indígena cresceu exorbitantemente, hoje somam-se 53.604 casos e 1061 obtidos de indígenas, dos quais 661 foram em terras indígenas. Na cosmologia yanomami, os pajés entram em diálogo com os xapiri (espíritos) e seguram os céus para que eles não desabem sobre a humanidade. Hoje, diante da realidade do vírus mais mortal dos últimos 100 anos, os pajés precisam trabalhar em dobro para conter os avanços da necropolítica promovida pelo estado moderno e os sucessivos ataques ao ecossistema.
Qualquer prática que pretenda ser decolonial nas artes da cena precisa levar em conta os indígenas enquanto sujeitos de sua própria autonomia. Não há tutela, não precisamos de extrativismo cultural. Durante muito tempo, quando a crise do drama moderno afetou as práticas teatrais do ocidente, buscaram em nós indígenas, na nossa tradição, a chave para compreensão do corpo como norte epistemológico. O que muitos diretores, teóricos e artistas da cena não compreenderam, é que os rituais, os cantos e os grafismos, serviam a cosmovisões particulares e heteróclitas, que só poderiam ser compreendidas dentro de seu aspecto espiritual.
A nova crise promovida pelo antropoceno, pelo projeto do estado capitalista moderno, trouxe para toda a humanidade o desafio de compreender o nosso lugar no planeta. E qual o papel das artes nesse contexto? Será que continuaremos imersos no eurocentrismo teatral que exotisa, tipifica e reduz nossa dimensão multinatural a apenas um “conjunto de técnicas” para propiciar a expressão? O sábio líder Ailton Krenak (2020, p.07), nos alerta para o seguinte fato: “Esse pacote chamado de humanidade vai sendo deslocado de maneira absoluta desse organismo chamado terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade, as formas de vida, de existência e de hábitos”.
As dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 levaram a classe artística a um momento intenso de reinvenção. E o que pretendi ao longo deste artigo foi demonstrar como identidade e arte são dimensões indissociáveis. Possibilitar, por meio da arte, a retomada de saberes indígenas e a conexão com lutas políticas é de fundamental importância para “adiarmos o fim do mundo”.
1 Licença parente falecido, licença indígena de outra etnia, licença homem branco que segue o indígena, licença ancestral (tradução da língua brobo, língua dos povos Kariri-Tarairius).
2 Grupo de Pesquisa e Extensão fundado em 2010 pelo Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek e alunos dos Cursos de Teatro, Dança, Música, Artes Visuais e Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
3 “Ânima” foi a primeira nomeação, no ano de 2016, do processo que resultou no espetáculo “Cuna” do Arkhétypos Grupo de Teatro. O espetáculo era parte da pesquisa de mestrado do diretor Paul Moraes, na época.
4 A anima na tradição junguiana, representa a energia psíquica feminina no inconsciente masculino.
5 Magia e magos há praticamente em todo o mundo, ao passo que o xamanismo aponta para uma “especialidade” mágica específica, no qual insistiremos muito: o “domínio do fogo”, o vôo mágico e etc.” (ELIADE, 2002, p.17).
6 Segundo o americano Richard Schechner, professor e diretor do The Performance Group, performances são comportamentos duas vezes experienciados, ações realizadas para as quais as pessoas treinam e ensaiam (2006, p. 29).
7 A metodologia kõkamõu chama atenção para a responsabilidade da pluralidade corporal, já que, no atual momento da política brasileira, os conhecimentos tradicionais estão ameaçados pelas desmarcações de terra indígena, pelas perseguições religiosas e pelo desmantelamento das políticas públicas voltadas aos direitos humanos (GONÇALVES, 2018, p.178).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBERT, Bruce. KOPENAWA, Davi. A Queda do Céu – Palavras de um Xamã Yanomami. Ed. Companhia das Letras. 2015.
BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo, Martins Fontes, 2013.
DIAS, Leonardo Guimarães Vaz. A Guerra dos Bárbaros: manifestações das forças colonizadoras e da resistência nativa na América Portuguesa. Revista Eletrônica de História do Brasil. Juiz de Fora: UFJF, v. 5, n. 1, set. 2002.
ELIADE, Mircea. O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase. São Paulo: Martins Fontes, 2002. F
OUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2012.
GONÇALVES, Luiz Davi Vieira. Performance e Xamanismo: o corpo e sua expressividade no xamanismo Yanomami aldeia de Maturacá. In: Revista Arte da Cena, Goiânia, v. 2, n. 1, p. 83-96, dezembro/2015.
GONÇALVES, Luiz Davi Vieira. O(s) Corpo(s) Kõkamõu: A performatividade do pajéhekura Yanonami da região de Maturacá. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Amazonas, 2019. 63
GROTOWSKI, Jerzy. Performer. In: Revista Performatus, Inhumas, ano 3, n. 14, jul. 2015.
JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2014.
KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda. Companhia das Letras, 2020.
_______________ Ideias para adiar o fim do mundo. Companhia das Letras, 2020.
SILVA. José Ricardo Roberto da. HADERCHPEK, Robson Carlos. (2018). Processo Ânima: A Imaginação Material e a Descoberta da Ancestralidade. In: Arte da Cena (Art on Stage), 4 (1), 042-070.
SILVA, João Paulo Querino da. Tybyra: uma tragédia indígena brasileira. São Paulo/SP, Selo doburro, 2020.
SANTOS, Inaicyra Falcão dos. Corpo e Ancestralidade: Uma Configuração Estética Afro-Brasileira. In Revista Repertório Teatro & Dança nº 24. Salvador: PPGAC/UFBA, 2015. p.79-85
SILVA, José Ricardo Roberto da. Performance e ritual: por uma prática de descolonização do imaginário. 2019. 32 f. TCC (Graduação) – Curso de Licenciatura em Teatro, Departamento de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.
MEDEIROS FILHO, Olavo de. Os Tarairús, extintos tapuias do Nordeste. Maceió, EDUFAL, 1999.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas canibais: Elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: n-1 edições, 2018
AUTOR
José Ricardo Roberto da Silva, ator, pesquisador e artista brincante de rua. Mestrando em Artes Cênicas pelo PPGARC- UFRN e membro do Arkhétypos Grupo de Teatro (UFRN) onde desenvolve pesquisas sobre corpo, ancestralidade e manifestações ritualísticas ameríndias. Também é membro do coletivo teatral Ô de Casa, Ô de Fora, grupo que investiga os procedimentos poéticos do ator de rua.