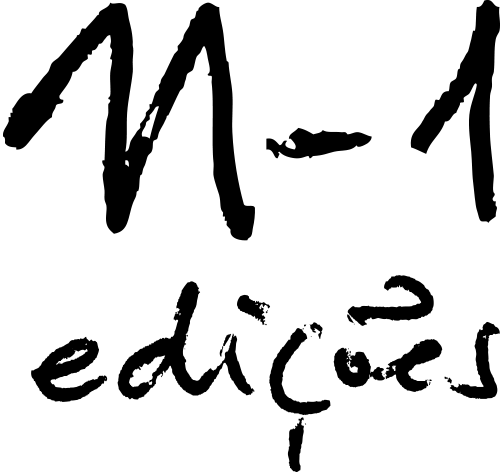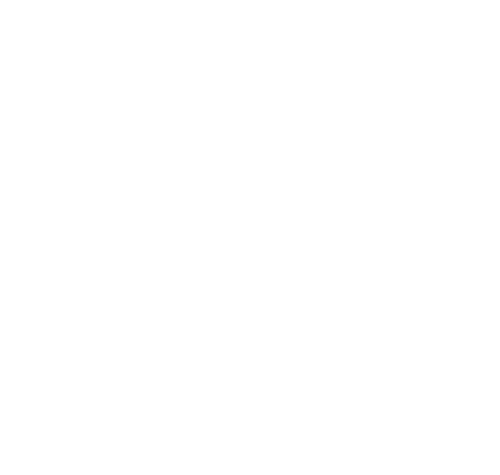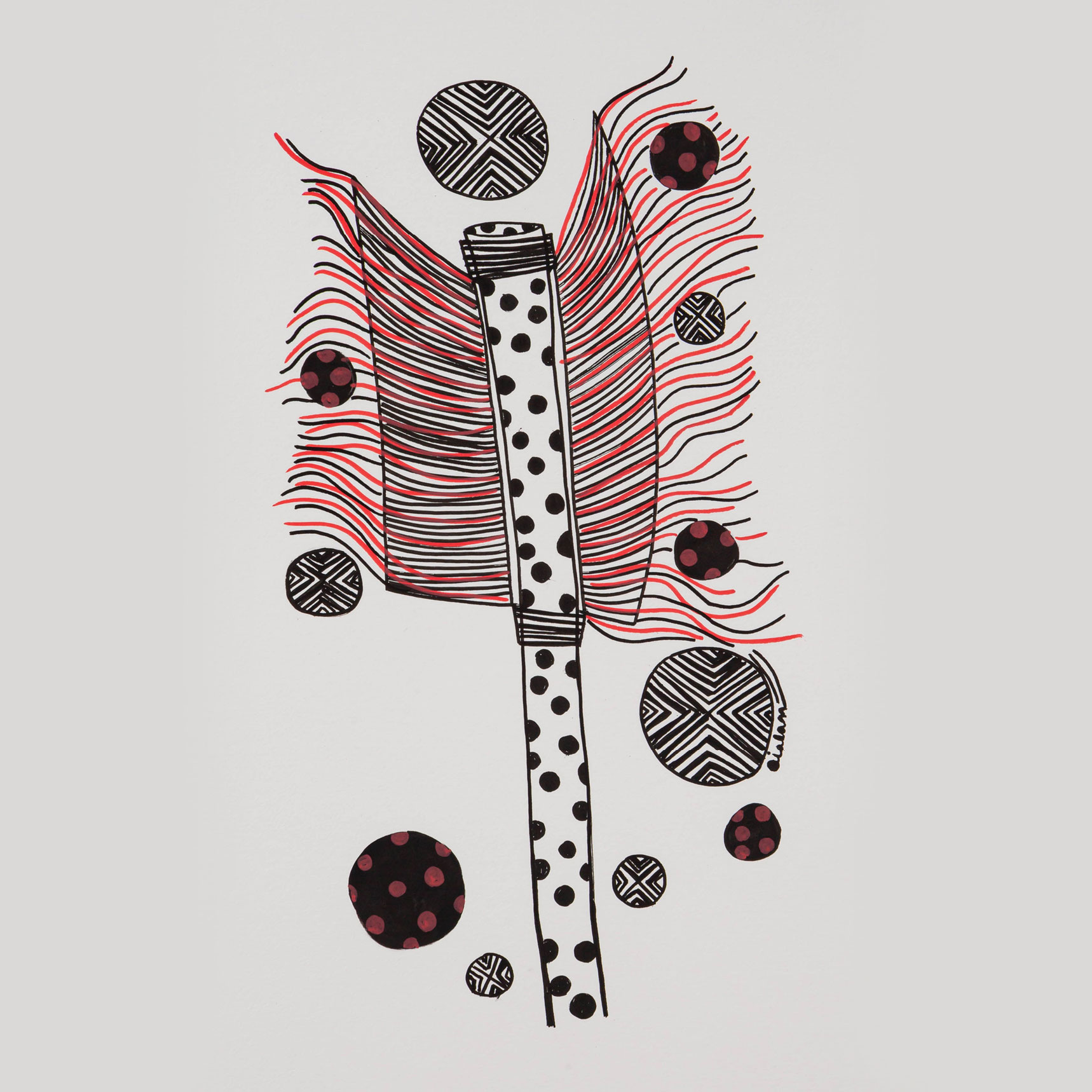
Teatro e povos indígenas: o perigo da folclorização
João Paulo Barreto Yepamahsã e Luiz Davi Vieira Gonçalves
Ointeresse do Teatro pelo povos tradicionais existentes no Brasil vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, haja vista o grande aumento de publicações sobre o tema em revistas especializadas1, o grande número de apresentações de trabalhos acadêmicos em eventos nacionais2, o aumento de performances teatrais em eventos artísticos3 e também, vale destacar, a presença dos indígenas nas graduações em Teatro e em outras áreas das Artes como Artes Visuais e Dança. Entretanto, todo esse aumento de interesse do não indígena pelos conhecimentos dos povos tradicionais e a presença dos indígenas em campos de formações em Artes nos lançam uma profunda preocupação: como podemos realizar um encontro simétrico entre o Teatro e o conhecimento tradicional?
Essa questão nos é pertinente, sobretudo pelas experiências negativas observando as práticas de Bahsese (rituais de cura) realizadas no Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, localizado na cidade de Manaus/AM, assim como a cena teatral do Amazonas. Durante os quatros primeiros anos de funcionamento do Bahserikowi, percebemos que a maioria dos não indígenas que chega até o local busca a imagem do pajé teatralizado, comum em espetáculos artísticos e festivais folclóricos no Amazonas, mas, ao se depararem com os kumuã (pajés) que fsicamente não estão adornados e tampouco com performances estereotipadas, os não indígenas sentem-se desacreditados. Por outro lado, sobre a cena teatral do Amazonas, é comum encontrar em espetáculos de diversas linguagens o indígena sendo interpretado de forma folclorizada pelo não indígena em cena. Por isso, fcou evidente que a teatralização do indígena é uma ferramenta de construção imagética do arquétipo sobre o que é o indígena e quando essa construção é feita de forma estereotipada, o indígena tem a sua realidade de luta cosmológica e política enfraquecida.
Vale salientar aos leitores deste artigo que ele foi escrito pelo indígena João Paulo Barreto da etnia Yepa’masha (Tukano), doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, e um não indígena Luiz Davi Vieira, artista e professor do Curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas. Assim, a estrutura do texto está organizada em um diálogo intercultural entre os dois autores. Resolvemos trazer falas transcritas de experiências de um indígena e um não indígena que atuam na cidade de Manaus na construção da relação simétrica entre o Teatro e os povos indígenas, refetindo sobre o perigo da folclorização.
Luiz Davi Vieira: Quais são os perigos da relação dos artistas com os povos indígenas? O que você, na experiência do Centro de Medicina Bahserikowi, como pesquisador antropólogo indígena, nos falaria sobre o perigo que existe nessa relação? Assim, podemos começar a entender também que existem várias faces dessa relação. Por exemplo: Uma vez, eu fui publicar um artigo e uma grande amiga me perguntou assim: “Poxa, Davi, você só coloca coisa boa no artigo, só fala que você tava lá com os Yanomami dançando e cantando, lá com kumu Bú’u Tukano, mas onde estão as difculdades? Os perigos dessa relação?”. Então gostaria que você destacasse os perigos do interesse dos artistas pela cosmologia indígena.
João Paulo Barreto: Estou tendo a oportunidade de assistir espetáculos seus e de outros colegas artistas sempre com essa preocupação de colocar com maior fdelidade e respeito, expressando através do corpo, tenho me emocionado bastante, então penso que, particularmente, é possível sim, uma relação verdadeira, porque a Arte lida com tudo aquilo que está fora do alcance da razão. Nesse sentido, nosso conhecimento está fora do alcance da razão, está no campo da imaterialidade, no campo da metafísica, como transformar isso em algo comunicável, algo de interação; nesse sentido, não tenho muita crítica ao Teatro ou artistas sobre isso, agora eu tenho uma crítica na medida que começam a folclorizar demais isso. Quero trazer uma experiência muito dolorosa, que aconteceu com minha sobrinha, quando foi picada por uma cobra e o médico queria amputar, e a gente entrou com um propósito de fazer um tratamento conjunto com Bahsese. Isso não foi aceito de jeito nenhum, isso causou uma grande confusão, mas uma coisa que ele disse me chamou muito a atenção, “Eu não vou permitir a entrada de um pajé aqui, cantando, pulando, dançando, tocando maracá, fazendo fumaça e barulho, fazendo ritual de cura, porque aqui é o lugar de doente, lugar de silêncio”. Eu disse para ele: “O senhor está certo, mas pelo que me parece o senhor só assiste o pajé do boi-bumbá, ele que faz isso, canta, dança, pula, com todos aqueles aparatos que a gente conhece e cura boi; nós indígenas não curamos o boi, a gente come o boi”, ou seja, esse imaginário que é construído de forma folclorizada leva a uma compreensão errada sobre nossos especialistas, sobretudo. Quando começou a funcionar o Centro de Medicina Indígena, nós tivemos muita gente querendo conhecer para saber como era o pajé, daquele jeito, quando chegavam e olhavam o meu tio ou meu pai sentados, perguntavam, “Esse é o pajé? Ele é pajé mesmo?” Ou seja, no imaginário das pessoas é isso, isso é reproduzido não só pela Arte, mas via material didático, via meios de comunicação, mídia em geral, até mesmo pelos pesquisadores. Então, quando digo em descolonizar é isso, quando a gente quer retomar de fato essas diferenças, o melhor caminho é dialogar como estamos fazendo aqui, como alguns artistas estão fazendo, nós podemos fazer muita coisa boa, por que não fazer uma Ópera Amazônica?
Luiz Davi Vieira: Então o caminho é descolonizar a Arte dos padrões eurocentristas?
João Paulo Barreto: Os nossos conhecimentos têm sido colocados como não conhecimento, não Ciência. Nós sempre fomos obrigados a negar os nossos conhecimentos, nosso corpo, nosso território, nossas práticas sociais, nossos especialistas, nossa organização social, econômica e política, enfm, negar nossas instituições. Portanto, nessa nova possibilidade que a gente tem de conversar é necessário ter muito bem claras essas diferenças e que nós indígenas operamos outras lógicas de conceitos, então vocês como professores, como pesquisadores, como artistas e atores lidam com a lógica e conceitos construídos através das Universidades, ou seja, através da escrita. Mas a Arte como expressão de conhecimentos tem a capacidade de transgredir um pouco essa lógica da objetivação das coisas, transgredir a razão.
O que me engrandece de conversar aqui é exatamente isso, a Arte transgride essa fronteira, essa imposição da Ciência. É necessário a gente abrir o diálogo a partir dessa transgressão, a prepotência da objetivação das coisas, portanto, falar do nosso conhecimento é exatamente negar a objetivação, porque nós, povos indígenas, temos nosso conhecimento a partir de várias relações, a partir da rede de relações, portanto a razão não é a única maneira de explicar e compreender as coisas, existem outros modelos, outros meios dos quais nós, indígenas, somos especialistas. O sonho é uma linguagem, os cantos dos animais são uma linguagem de comunicação, de interação, os barulhos da foresta são uma linguagem, o corpo por si só já é uma linguagem síntese do cosmo.
Quando nós, povos indígenas, tratamos e olhamos o nosso corpo, olhamos a partir do nosso ponto de vista de transformação. O corpo está em constante transformação, está em movimento. Uma das coisas que eu levantei na minha tese de doutorado é exatamente como nós, povos indígenas, compreendemos e conceituamos o corpo. Cheguei a uma questão que o corpo, do nosso ponto de vista, é a síntese de todos os elementos, os nossos especialistas falam que o corpo é constituído de vida-água, quando digo água, não é água que a gente conhece, é a água na sua essência, vida-animal na sua essência, vida-vegetal, vida-luz, vida-terra. Essa noção de constituição do corpo como elemento é fundamental, é onde os nossos especialistas lançam mão para transformar o corpo, então Bahsese como Arte transforma o corpo pelo poder de manipulação das qualidades sensíveis e das coisas via palavras, pela formação que os especialistas têm, portanto, para nós, a oralidade é importante, falar para nós não é qualquer coisa, é a palavra que transforma, é a palavra que destrói, é a palavra que constrói, o poder da palavra é superimportante, portanto a Arte do Bahsese é isso. Dizia o grande professor indígena Brasilino Barreto: “Esse poder que está na ponta da boca”. Assim como para os brancos, o poder está na caneta, na escrita.
Arte e Bahsese são a capacidade de falar ou expressar através do corpo algo que é metafísico, vocês como atores fazem muito isso quando a gente consegue entender a performance de vocês ou qualquer movimento que vocês fazem como artistas; quando a gente compreende o que vocês estão falando, não precisa falar, só a expressão corporal já diz muita coisa. Eu tive a oportunidade de assistir várias coisas do Professor Luiz Davi, também como de Francis Madson, como de Mara Pacheco e outros colegas que são artistas. Quando não entendia, pensava: “Poxa, o que o pessoal quer falar? O quê que o pessoal está querendo dizer com isso?”, mas depois que eu passei a entender que cada movimento tem sua expressão, cada movimento fala alguma coisa, aí tem todo sentido. Assim também é o Bahsese, ele não é rezar Ave Maria ou Deus Pai, é diferente, é esse poder de manipular as coisas para o bem ou para o mal, para curar, para tirar a dor, para fazer o corpo desenvolver todas as potencialidades. Da mesma forma, esse mesmo Bahsese pode destruir uma pessoa ou corpo, e no caso é a feitiçaria. Então a Arte e o Bahsese têm muito a ver nesse sentido, o corpo está em contínua transformação, para nós é a nossa flosofa, a flosofa dos povos indígenas é considerar que o mundo e o cosmos estão em constante transformação, o corpo está em constante transformação, em movimento.
Só para concluir, devo dizer que a morte para nós é isso, é voltar para as condições de vida-água, de vida-foresta, de vida-animal, de vida-vegetal, de vida-terra, de vida-luz e voltar para casa no Alto Rio Negro sob condições de seres invisíveis, então é isso que eu trago para a gente começar a conversar e, mais uma vez, eu estou falando isso a partir de uma experiência que a gente tem através das pesquisas, através desse contato com artistas, com o professor Luiz Davi e o seu grupo Tabihuni e, como eu tento falar, existem sim as interfaces e convergências que permeiam o nosso tema de Teatro e povos indígenas.
Luiz Davi Vieira: Eu vou abrir uma refexão para ir verticalizando esse tema. Nos tempos atuais, temos um crescimento do desejo do Teatro, da Dança, das Artes Visuais, pela busca dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Eu gostaria que você pontuasse para o leitor a noção de corpo para os povos indígenas a partir da sua pesquisa de doutorado, a partir do seu entendimento enquanto Tukano. Para nós, não indígenas, a noção de corpo que a gente tem é apenas a matéria, então você traz vários elementos e fala para a gente que o corpo é um conjunto, então, para a gente começar a refetir sobre esse conjunto, como podemos relacionar esse conjunto com essa noção de corpo que você traz? Nós, não indígenas e artistas especifcamente, como podemos pensar em conjunto?
João Paulo Barreto: Primeiro ponto, a Ciência e a Arte estão buscando voltar às raízes. Eu sempre costumo dizer que nós ainda estamos em uma política de educação em que a construção de conhecimento é impositiva. Eu sempre discutia na UFAM quando eu tinha oportunidade, indagava:
“Professor não tem oportunidade de ter a língua indígena aqui na universidade? Já teve de todos, por que não dos indígenas? Qual o problema?”
Já que a UFAM está na Amazônia, no Amazonas, na região de maior diversidade dos povos indígenas, aí você vai lá, consegue fazer língua Japonesa, Francês, Inglês, mas não tem Tukano, Tuyuka, Tikuna, Apurinã, então é a partir desse ponto, é preciso a gente repensar em vista de uma relação mais simétrica. Porque a língua é um poder, todo mundo sabe disso, então, estou dizendo “Vamos conversar todo mundo”. Portanto, existe um posicionamento de que, se eu esquecer a minha língua, estou esquecendo todos os conceitos Tukano, porque essa política de negar a nossa língua é justamente matar todas as nossas cosmologias e matar todos os nossos conceitos, essas universidades têm uma responsabilidade muito grande, tanto a UEA quanto a UFAM, a gente lamenta muito isso. O segundo ponto que eu sempre digo é que nossos conhecimentos indígenas são lidos ainda e compreendidos ainda pela chave da religião, não é à toa que são usados termos como espíritos, magia, líder religioso, que é um modelo de conhecimento diferente do nosso, não estou dizendo que é melhor ou pior que o nosso, apenas é diferente, estou dizendo que essas palavras são de um modelo de conhecimento, lançando mão de pesquisadores para falar do nosso conhecimento, muitas vezes isso é equivocado e distante daquilo que a gente quer falar.
Segundo ponto, portanto, quando você pergunta, Luiz, esse retorno de querer entender os conhecimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros povos, é necessário primeiro desconstruir, descolonizar esses conceitos da religião, só vamos poder dialogar simetricamente à medida que a gente desconstruir primeiro esses palavreados como maloca, religião, curandeirismo. Então, em relação a essa busca desse retorno, vamos dizer que o conhecimento construído via objetividade chegou ao seu limite, está aí a pandemia, outros campos estão no limite. Aí está o grande desafo, quando digo “É preciso decolonizar esses conceitos”, nós precisamos levar a sério as diferenças. Uma coisa é a nossa epistemologia indígena que opera contra a lógica, outra coisa é da Ciência, que tem suas lógicas, o que tem acontecido é que esse modelo tem sempre nos colocado como patamar de aprendizes, não é à toa que os universitários gostam de dar ofcinas para os povos indígenas: “Ah, vamos dar ofcina pros índios”, mas nunca perguntam para a gente o que são as mudanças climáticas de fato, a noção de mudanças climáticas é produzida pela Ciência, não pelos nossos especialistas, não é produzido pelos povos indígenas. Eu vou dizer por quê. Conversava com o pai do Tukano Jaime Diakara sobre isso, ele dizia assim:
“Não é que o tempo mudou, é que vocês que não estão mais fazendo conexão com esses seres que cuidam dessas coisas e não sabem mais o nosso calendário cosmológico, esse que é o problema, vocês estão agora conectados pelo calendário gregoriano, pelo calendário da escola, vocês não estão mais conectados, perderam isso.”
Luiz Davi Vieira: Você traz algumas palavras específcas que são muito importantes, principalmente para nós que pensamos a relação simétrica nesse campo das Artes. Você convida de uma forma muito elegante, sensível e educada à desconstrução do conceito de Arte, quer dizer, você cita fé, religiosidade e algumas outras palavras eurocentristas, e assim, você nos convida a repensar esse conceito de Arte. Para mim, que sou um pesquisador do campo das Artes da Cena, da Antropologia da Arte e da Antropologia da Performance, tudo que você cita vem com muita força, porque quando você fala sobre o corpo e sobre a expressão humana é algo que acrescenta muito aos estudos sobre o tema da expressão humana – vou colocar a expressão humana para a gente talvez não tirar, mas expandir esse conceito de Arte, porque a ideia aqui, sem sombra de dúvidas, não é tolher ou eliminar alguma coisa, mas sim tentarmos expandir as nossas cosmovisões, o nosso corpo, expandir a nossa visão enquanto artistas, enquanto criadores performers e principalmente no diálogo simétrico com os indígenas e com o João Paulo enquanto a ritualidade Tukano. Seguindo, fco pensando em como nós podemos estabelecer uma relação com o Bahsese, de uma forma subjetiva. Você fala assim, “Olha, nós estamos aí presos em um lugar objetivo, focados e com grandes objetivos, e a gente talvez esteja perdendo a nossa capacidade subjetiva, a nossa capacidade imaterial”. A partir do que você fala de corpo coletivo, de entender o que é o corpo, o que são os corpos e essa pluralidade? Às vezes, eu percebo também que os artistas até falam sobre essa pluralidade, mas não trazem um indígena ou quilombola, ou seja, pessoas específcas para poder estar no lugar e falar: “Olha, nós pensamos assim”. Com frequência, eu sempre polemizo nos encontros de artes, nos encontros de teatro etc, falando: “Gente, está bem sobre os autores e autoras eurocentristas, agora eu queria ouvir um pouco do João Paulo falando um pouco sobre a noção de corpo, os quilombolas, os indígenas etc”. Você traz a noção de subjetividade e da coletividade, então, para poder dilatar um pouco a sua fala, João Paulo, eu queria que você nos trouxesse enquanto campo criativo sobre subjetividade e coletividade. Como você nos orienta a caminhar com a subjetividade e a caminhar com a coletividade a partir da sua cosmologia?
João Paulo Barreto: Nós, povos indígenas, também temos nossa manifestações artísticas, só que estão dentro de uma lógica do nosso calendário cosmológico de constelação, tem festa de antropomórfcos da pupunha, de outras frutas, a questão é que, quando as pessoas transformam seus corpos em extensão desses seres, não se comunicam só entre humanos, estão conectados com os seres que cuidam das frutas e estão conectados com cuidados do corpo, questão de saúde, então tudo está relacionado, é uma relação social, comer com meus cunhados, primos e tios. Manifestar aquilo não é manifestar por manifestar, ou simplesmente cantar e dançar. Isso está no sentido de cuidado da saúde coletiva em outra dimensão, e é essa interação ou comunicação que você constrói através da dança, das músicas com esses seres que cuidam das coisas, então a Arte oferece essa liberdade para vocês, também no campo da academia ou quaisquer artistas, penso eu que, quando fazem o espetáculo, pensam nessas ações. Assim como Bahsese é para nós, a Arte é para vocês, ou seja, oferece essa liberdade que não é só entre humanos que vai se comunicar, mas está conectado sim com a cosmologia do pensamento. Então essa questão para nós é o que dá sentido ao equilíbrio cosmológico, visto que o corpo está conectado com tudo, visto que eu faço meu corpo com manifestação disso, eu estou relacionando tudo isso. Nesse sentido, o corpo artístico transgride muito essa noção limitada do corpo físico comunicando com outras dimensões, então, aí que é possível, como eu falei, a Arte e o Bahsese.
Considerações em processo
Portanto, como foi pontuado no diálogo intercultural, o Teatro, a Dança, a Arte em geral, pode ser pensada na relação simétrica com os povos indígenas. No entanto, esse diálogo deve ser feito com responsabilidade cosmológica e política, tendo como principal meta não folclorizar. Ou seja, é de suma importância que os povos indígenas sejam consultados e/ou convidados para o desenvolvimento de qualquer processo criativo em Arte realizado com base em sua cultura. Sobretudo, vale destacar que, em alguns casos, somente o próprio indígena tem o direito de traduzir o seu conhecimento para o campo das Artes pelo rigor e pela profundidade de alguns assuntos pertencentes às suas respectivas cosmologias.
Como exemplo de trabalho simétrico entre indígena e não indígena no campo da criação artística, destacamos a parceria entre o Centro de Medicina Indígena Bahserikowi e o Tabihuni: Núcleo de Pesquisa e Experimentações das Teatralidades Contemporâneas e suas Interfaces Pedagógicas (CNPq/UEA), na qual vem sendo desenvolvida uma série de atividades acadêmicas e artísticas, com o objetivo de aprofundar esse debate de como pode ser instaurado um processo criativo em Arte entre indígena e não indígena sem provocar um estereótipo folclorizado. Destaca-se nesta parceria a realização do evento Arte e Bahsese: diálogos em tempos de cura4, em que foram debatidos temas como: Arte e Experiências Ritualísticas do Povo Tukano: interfaces e convergências; Modos Diferentes de Produção de Conhecimentos: cruzamentos e interfaces; Teatro e Povos Indígenas: por uma educação humana; e Espiritualidade do Povo Tukano: Arte do Bahsese como centro do diálogo. Foram refexões realizadas por artistas do Tabihuni e indígenas do Bahserikowi, tendo a presença de Kumuã (pajés) que estavam em contexto urbano na cidade de Manaus e também na cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM).
Por fm, destacamos com base em experiências pautadas na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, questões que segundo o nosso entendimento podem servir para todas as pessoas que se interessam em trabalhar com os povos indígenas. Propomos um olhar ampliado com o desejo de um país que reconheça sua diversidade, que olhe de dentro para fora, que cuide de sua genuína cultura de forma afetuosa. Um campo expandido para o mais íntimo de nossa existência humana em diálogo subjetivo com a imaterialidade.

À esquerda da foto, os não indígenas do Tabihuni, Viviane Palandi e Luiz Davi Vieira e, à direita, os indígenas João Paulo e Ivan Barreto. Foto: Reunião do Bahserikowi e Tabihuni. Fonte: Acervo dos autores.
1 Destacam-se Revista Arte da Cena (UFG), Revista Urdimento (UDESC), Revista Txai (UFAC) e Revista Iaçá (Unifap).
2 Destacam-se os anais dos Encontros da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação (ABRACE) e os anais dos Encontros da Federação Brasileira de Arte Educadores (FAEB).
3 Destacam-se os seguintes eventos: Teatro e Povos Indígenas —TEPI (2018 e 2019), Festival Estudantil de Teatro de Belo Horizonte — FETO (2018), Potência da Artes do Norte — PAN (2020) e Mostra de Teatro do Amazonas – 2021.
4 O evento aconteceu na modalidade virtual devido à pandemia causada pelo Covid-19. Maiores informações podem ser acessadas no Instagram do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi (@centrodemedicinaindigena) e do Tabihuni (@tabihuni4).
Referências
ALBERT, Bruce. KOPENAWA, Davi. A Queda do Ceu — Palavras de um Xamã Yanomami. São Paulo: Ed. Companhia das Letras. 2015.
AZEVEDO, Suegu Dagoberto Lima. Agenciamento do mundo pelos Kumuã Ye’pamahsã: o conjunto dos Bahsese na organização do espaço Di’ta Nʉhkʉ. Editora da Universidade Federal do Amazonas: Manaus, 2018.
BARRETO, João Rivelino Rezende. Formação e transformação de coletivos indígenas do noroeste Amazônico do mito a sociologia das comunidades. Editora da Universidade Federal do Amazonas: Manaus, 2018.
BARRETO, João Paulo Lima. Waimahsã peixes e humanos. Editora da Universidade Federal do Amazonas: Manaus, 2018.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fm do mundo. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
KRENAK, Ailton. A vida não e útil. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
KRENAK, Ailton. O amanhã não está a venda. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
KRENAK, Ailton. O lugar onde a terra descansa. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
MAIA, Gabriel Sodré. Bahsamori: o tempo, as estações e as etiquetas sociais dos Yepamahsã (Tukano). Editora da Universidade Federal do Amazonas: Manaus, 2018.
MUNDURUKU, Daniel. Vozes ancestrais: 10 contos indígenas. São Paulo: FTD Educação, 2016.
AUTORES
João Paulo Barreto Yepamahsã, povo Yepamahsã (Tukano), doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. É antropólogo, professor, consultor. Seus temas de atuação são: Cultura e Conhecimentos indígena, Educação Escolar Indígena, Saúde indígena, Economia Indígena, Formação de lideranças indígenas, Consultoria e Assessoria ao movimento indígena.
Luis Davi Vieira Gonçalves, Performer, Diretor de Teatro e Antropólogo-Artista. É professor Adjunto da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Tem diversos livros publicados. Atualmente é Líder do Diretório de Pesquisa Tabihuni: Núcleo de Investigações em Teatralidades Contemporâneas e suas Interfaces Pedagógicas-UEA/CNPq e coordena diversos projetos de pesquisa.