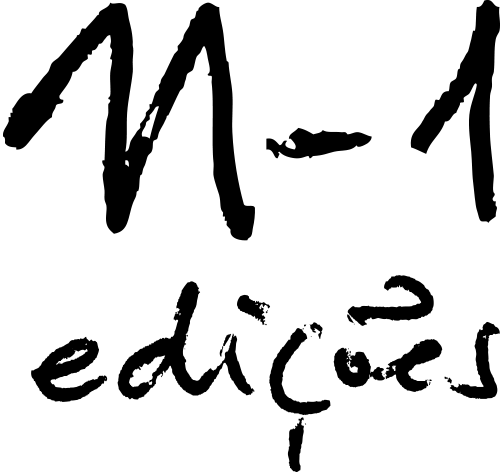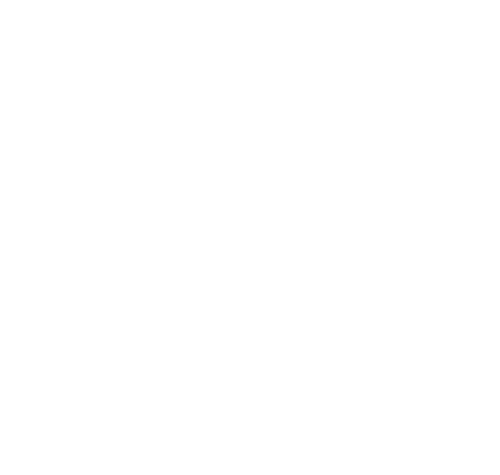Uma conversa desde os nossos bancos
Ana Luiza da Silva e Raquel Kubeo
Nesta conversa entre nós, Ana e Raquel, em que contamos sobre uma experiência no teatro que nos aproximou, mulher indígena e mulher não indígena, optamos por deixar nossas vozes evidentes para quem nos lê. A voz de Ana, mulher não indígena, sem árvore genealógica, filha típica da mestiçagem brasileira, está em letra normal. A voz de Raquel, mulher indígena, descendente dos povos Tukano e Kubeo, está em letra itálica.
Nessas palavras, buscamos um contar desta parte da nossa história, uma escrita que se comunica como nos comunicamos. Optamos por não colocar citações, notas de rodapé e recursos, que dariam ao texto um caráter que não gostaríamos neste momento, para que o nosso leitor tenha a sensação de estar ouvindo uma história. Foi assim, uma conversa que tivemos, um tanto escrita, um tanto gravada e transcrita. Cada uma com suas palavras. Para quem quiser saber mais sobre determinados conceitos e informações que citamos, colocamos um asterisco (*) no texto e deixamos lá no final da conversa sugestões de pesquisa e referências.
Acho uma iniciativa ótima pensar o teatro e os povos indígenas dessa forma coletiva. A gente não tem teóricos e pensadores sobre teatro, técnica, mas a gente pensa em uma escrita coletiva. Eu vejo que a literatura indígena já faz isso e a gente, que tem esse contato com o teatro, fazer isso, é de uma importância muito grande para quem já está nesse meio e para quem deseja também ingressar no teatro.
Conhecer o trabalho da Ana Luiza com o Terra Adorada foi um tecer de redes e pensar como é a recepção de pessoas indígenas com esta linguagem, percebo que pouco do teatro que alguns de nós conhecemos não nos contempla ou contextualiza e, por isso, comecei a refletir a maneira que, como indígenas, podemos contribuir.
Terra Adorada* é um espetáculo teatral, com características de teatro documentário*, que intercruza narrativas das minhas vivências em terras Kaingang e Guarani, dados documentais sobre a situação dos povos indígenas no Brasil em diversos períodos, memórias da minha infância numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul e algumas palavras da literatura indígena, mas Terra Adorada é só uma das formas que a pesquisa de mestrado tomou a forma teatro como conhecemos. As trocas com os Kaingang e os Guarani se desdobraram em muitas outras ações.
No processo de criação de Terra Adorada, vivenciei períodos em terras Kaingang e Guarani, me envolvi em movimentos de retomadas, participei de mobilizações e da luta dos povos indígenas por direitos, li e ouvi pessoas indígenas de todo o Brasil. Durante o processo de ensaios em sala, além das minhas parceiras profissionais do teatro, busquei o olhar de pessoas indígenas das mais diversas áreas e formações, precisava saber se o que estava criando importava para as suas vivências, se dialogava e as respeitava. Tinha muito receio de me apropriar indevidamente e comunicar algo equivocado.
Assim, recebi amigas e amigos Kaingang do Direito, da Antropologia, da Odontologia, amigas Guarani mães, artesãs. Vez ou outra, com um material cênico estruturado, apresentava trechos do futuro Terra Adorada para essas convidadas para ouvir suas impressões. Foi nesse período, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que te conheci, Raquel. Estávamos fazendo um seminário, exatamente sobre teatro documentário, no campus da Educação. Ao final de uma das aulas, me aproximei de ti e perguntei: “tu é indígena?”, tu respondeu: “sim, sou”.
Ali te convidei para ser uma das pessoas a assistir aos ensaios e contribuir com tuas impressões. Talvez, provavelmente, não tenha sido a melhor abordagem, me aproximar de ti perguntando se era indígena, mas tamanha foi a minha empolgação, minha alegria, quando encontrei, exatamente naquele espaço de pensar e estudar teatro, uma mulher indígena com quem pudesse trocar. E foi uma alegria ainda maior quando tu aceitou assistir um ensaio e colocar tuas impressões. Desde então, tu se tornou essa parceira do trabalho, divulgando, convidando parentes para assistir, participando de debates.
Para mim, ser abordada na Universidade assim foi até inesperado. Eu estava por acaso na aula, a convite da Ariadne para saber sobre ficção, ou alguma coisa assim, ela me convidou para o seminário, não entendi muita coisa, porque eu estava mais focada na área da Educação, que era o mestrado que estava fazendo. Eu gostei. Num primeiro momento me assustei, mas eu gostei de te conhecer porque eu já conhecia de Manaus o teatro, já havia participado e eu tinha outras referências, não conhecia a cena do teatro daqui de Porto Alegre. Então para mim foi uma abertura que senti de conhecer alguém que já é do meio, isso me possibilitou ter outras referências.
Ao assistir o primeiro ensaio do Terra Adorada, eu já achei diferente porque estava acostumada com um teatro ficcional e com muitas referências amazônicas. A questão das notícias e sobre as violências, o teatro de lá não usa muito, então foi uma linguagem diferente pra mim. Eu participava do grupo de teatro Pombal*, que era um grupo com outros indígenas.
A gente trabalhava com histórias e mitologias do povo, usávamos a língua Tukano, tem muito dessa questão do folclórico também, da ficção, alguma coisa de dramaturgia brasileira e amazônica, mas a dramaturgia lá é principalmente autoral, tanto dos parentes como dos outros dramaturgos amazonenses.
No ensaio do Terra Adorada, foi a primeira vez que eu vi um espetáculo documental falando sobre os povos indígenas do Brasil. Eu já tinha assistido, pela UFRGS mesmo, um espetáculo documental que falava sobre ditadura, num âmbito geral, não fazia esse recorte. Quando se fala sobre ditadura dificilmente se faz um recorte falando especificamente dos povos indígenas, se fala nos desaparecidos políticos, mas não se fala dos povos indígenas.
Pra mim, foi muito impactante porque é aquilo que eu sei que aconteceu, tenho a consciência desses acontecimentos e marcos históricos, mas eles reunidos dessa forma como fatos, notícias, as falas, eu acho que fez um ótimo apanhado crítico. Eu gostei muito de ver como o teatro consegue dialogar com essas verdades e fatos, que são atemporais, porque se pegar notícias da época do Galdino, por exemplo, e notícias de hoje, ou falar sobre os Yanomami a partir do Davi Kopenawa e pegar uma notícia de hoje, não tem muita diferença. Então são denúncias também, para mim é muito importante a questão da denúncia por meio do teatro, como arte também.
Sabe que quando tu chegou para assistir ao primeiro ensaio, o trabalho já tinha mudado muito do projeto inicial? Em um primeiro momento, logo que propus a pesquisa para criação de um espetáculo dentro do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da UFRGS, eu buscava quais eram os possíveis cruzamentos e encontros entre a linguagem do bufão* (estilo teatral) e a cultura dos povos indígenas, assim, dessa forma genérica mesmo, considerando, num primeiro momento, que todos os povos indígenas tenham sido, de alguma forma direta ou indireta, banidos de seus territórios pelo homem branco, pelo avanço da “civilização”.
O banimento é uma das condições do bufão e seria então o ponto de partida para traçar conexões entre a cultura, os hábitos dos Kaingang e dos Guarani, com o universo dos bufões. É verdade que sim, consegui traçar vários atravessamentos entre aquilo que estudei e performei de bufão e alguns hábitos que encontrei nas vivências com os povos indígenas no meu estado.
Destaco um dos momentos bastante significativos para mim que foi, o jogo, a prática de uma espécie de brincadeira, de deboche comigo, com a cultura que eu represento. Essa foi a associação mais evidente enquanto eu buscava reconhecer o “olhar bufão” nas comunidades indígenas onde estive. O bufão, através do riso, da paródia, destitui o poder do opressor, ele se vale do riso para denunciar opressões. Os Kaingang riam da minha sociedade dizendo, por exemplo, que os fóg comem pouco, que as panelinhas na minha casa deviam ser “desse tamanhinho” (fazendo gesto pequeno com a mão), e riam coletivamente, porque “nós, Kaingang, a gente gosta de comer muito”.
Os Guarani me ensinavam palavras na sua língua para que eu repetisse, sem saber o sentido e assim riam de mim. Esse jogo, estabelecido com cumplicidade, com o meu consentimento, também brincado, me dizia que talvez essa fosse sim uma das formas de os Kaingang e os Guarani rirem dos meus hábitos, da minha sociedade branca… Me diz Raquel, o que tu acha, não há crítica nesse riso?
Eu estava lembrando das parentas lá do Amazonas quando a gente fez oficina que eu fui com a Cecília e com o pessoal, quando fizemos o projeto de oficinas para mulheres indígenas. Eu lembro que em alguns momentos eu via que elas ficavam desconfortáveis porque as parentas eram o que a gente chama de “gaiata”, eram gaiatas e não paravam de rir, então eu acho que elas desconfiavam que estavam debochando delas, mas era o jeito, acho que é um jeito de se expressar, de extravasar o momento, porque eu acho que a gente está acostumado nessa sociedade civilizada a engessar as coisas, a não fugir do protocolo das coisas e isso acontece até mesmo numa roda de conversa, que é algo informal.
Eu lembro só ficar olhando porque pra mim é natural, lá no Amazonas o pessoal é muito assim, debochado. Para quem não está acostumado, pode parecer que a pessoa está ridicularizando ou não está valorizando o momento, acho que elas sentiam isso, mas eu vejo que era uma forma de estar vivendo aquele momento da maneira delas, é o jeito, e nem todo mundo tem essa compreensão. É um momento que temos de valorizar, o momento da espontaneidade, de cultivar os afetos, pois não tem como exigir uma formalidade. Vejo que, às vezes, a Universidade faz isso, a pessoa já quer ir para campo procurando uma coisa determinada pela pesquisa acadêmica, então vai ter de ser assim, tipo um check list, sabe? Algo que tu teria que procurar, mas que lá na hora, talvez essas conversas, esse riso, se fosse uma pesquisa formal, tu não colocaria.
Então, exatamente nesses encontros, entre risos, brincadeiras, espontaneidade, que passaram as minhas associações entre bufões e indígenas. Mas ao longo do processo, com o tempo de convivência, lendo e vendo pessoas, como eu, brancas, significando, apreendendo, incorporando práticas, hábitos, símbolos das culturas indígenas em suas artes, seus trabalhos, suas explorações, comecei a me perguntar o porquê, a me sentir desconfortável, a perceber que eu não queria, de forma alguma fazer o mesmo, ainda que estivesse ciente o tempo todo de que era um caminho bastante provável. Então parei, não assim, conscientemente, isso eu escrevo hoje, quase dois anos depois de encerrado o mestrado.
Intuitivamente eu parei, parei de buscar bufão, de ver bufão, de significar bufão, e não foi porque talvez não existam elementos que possam dialogar, mas simplesmente porque viver aqueles tempos entre os Kaingang e os Guarani passou a mover em mim outros pensamentos, outros desejos. Já não importava tanto assim pensar em bufão, um estilo teatral europeu, definido, teorizado, ensinado por uma cultura ocidental. Perdeu o sentido chamar qualquer riso ou qualquer prática dos Kaingang e dos Guarani de “bufão”, assim como não vejo sentido em chamar “Hotxuá” * de palhaço sagrado, como alguns estudiosos do humor já fizeram. As traduções, elas significam e podem reduzir à nossa cultura outras culturas. Topé não é Deus, é Topé, Opy não é casa de reza, é Opy. Não apenas as nossas línguas, mas nossos mundos sensoriais são diferentes, então, significar os jogos dos Kaingang e dos Guarani como “bufão” era perceber aqueles hábitos de acordo com as minhas experiências, como uma artista, com uma formação repleta de referências europeias.
Se eu parei internamente, completamente, de buscar correspondências, semelhanças, diferenças, traduções? Não, acho que nunca acontecerá, mas tentei expandir o olhar, mudar as práticas, não significar e explicar tudo. E assim se abriu um novo caminho na minha criação, saiu o bufão, como forma, como linguagem, entrou o desejo de comunicar a partir do que eu tinha encontrado, de emprestar corpo e voz às denúncias que considerei urgentes a partir dos relatos que os Kaingang e os Guarani me traziam, cientes de que meu trabalho era crítico, que eu desejava, em essência, criticar a “minha sociedade”. Eu fui chamada, e talvez tenha desde o início feito um pacto com elas, a denunciar, a ser uma parceira de luta.
O teu trabalho foi a forma de conhecer o meio e grupos teatrais de Porto Alegre. Eu acho que quando a gente se coloca como indígenas através da autodeclaração, da autodeterminação, que a gente se afirma como indígena, não tem tanta recepção, porque tem, mesmo que inconsciente, o que é colocado pela sociedade como intelectual, que tem estudo, pesquisa, que lê muito. A impressão que as pessoas têm é que povos indígenas, por exemplo, não leem e não têm formação, então, logo, é uma produção inferior por ser feita por indígenas.
Até hoje, se for ver, numa cena cultural que fala que é Brasil, mas que está mais para o Sudeste e o Sul, aparecem muito mais as cias, os diretores, os dramaturgos não indígenas do que os indígenas. A gente acaba trabalhando muito mais nessas parcerias do que de forma autônoma porque a gente ainda vê a cena cultural como uma barreira, não tem essa abertura. No Norte, o teatro que eu conheci já tinha essas contribuições de indígenas, só que o que mais aparece, o que é superestimado, é o teatro mais embranquecido, com referências brancas e pessoas brancas atuando, tanto que vemos nos festivais, o que mais chama atenção, vai ser uma peça que um famoso faz, por exemplo. Então se a gente é indígena, falando sobre indígenas, para um público em geral não tem nenhuma novidade, porque eles sempre vão achar que a gente está falando a mesma coisa ou expressando a nossa cultura de uma forma estereotipada e homogeneizada.
Foi exatamente para desviar desses estereótipos e no intuito de estabelecer uma relação mais horizontal que, quando iniciei a pesquisa de mestrado em Artes Cênicas, conversei com lideranças explicando o projeto e o meu trabalho, buscando entender se aquilo que eu tinha para compartilhar interessava. Ao longo do processo, descobri outras formas mais diretas de estar junto, que estavam ao meu alcance, além do teatro, e que interessavam a elas. Sinto que com essa aproximação eu abri os ouvidos para que me chegassem predominantemente as narrativas de opressão, violência, preconceito.
O contexto dos povos do Sul, como tu já deve conhecer, é de extrema invisibilidade, opressão e violência. Há quem acredite até hoje que não existem indígenas aqui, há quem só compreenda e reconheça como indígenas os que vivem na Amazônia, há ainda aqueles que, reconhecendo que existem, os chamam de aculturados. São diversas as camadas de opressão vividas pelos Kaingang e pelos Guarani. As práticas de suas culturas, os remédios que me foram oferecidos, a catação de piolhos, os alimentos, as línguas, os cantos, o fogo, os risos, me fizeram sentir no lugar do afeto, entraram pelo coração e foram certamente o maior de todos os impulsos para que eu desejasse lutar junto e denunciar as violências que sofrem.
O teatro, com a forma que eu conheço, não é presente nas comunidades Kaingang e Guarani onde estive, mas há sim encenações, que têm canto, dança, que têm contação de histórias. Encenações, bom, é uma leitura da minha cultura, talvez para eles sejam rituais, manifestações, brincadeiras, não, talvez para eles sejam sentidos que eu desconheço, porque não alcanço, porque não existem na minha língua. Ailton Krenak falou em uma live sobre O Silêncio do Mundo* que a gente não pode interpretar a manobra de alguém a partir dos nossos códigos, que não necessariamente aquilo que os indígenas fazem como suas expressões culturais, tem a ver com a nossa ideia de teatro, até porque, diz ele, “teatro é coisa de grego”.
O que temos é espontâneo, não tem como a espontaneidade fazer parte de um processo de criação porque a gente não fala em processo de criação. Um processo de criação é algo também ocidental, não indígena, não é o nosso lugar, a gente pode falar muito nas questões que são milenares, como cada cultura. Cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo e de se enxergar nele, tendo o seu lugar. Como o povo Tukano, que presenteia a criança, ao nascer, com um banco*, representando o lugar que ela vai ocupar no mundo.
Muita gente tem essa questão espontânea e que não tem muito o que dizer e tem coisa que nem a própria pessoa compreende nesse sentido racional, é uma questão cosmológica, daquilo que é a sua forma de estar, acho que mesmo o corporal. Porque a gente vai para o teatro aprender técnica para isso e para aquilo, mas até mesmo a linguagem do teatro, algumas vezes, me deixou bloqueada para algumas coisas que eu tinha que ser como um robô, falar aquilo que o diretor queria ouvir e da forma que ele queria ouvir, e dessa maneira muito me bloqueou em vez de me ajudar num processo de criação que eu não sou. Eu via que meus amigos também ficavam muito indignados por ter uma pessoa gritando aquilo que tínhamos de fazer e a forma como devíamos nos expressar.
Portanto, não existe um lugar de criação em que indígenas também vão contribuir, uma forma de rever e recriar. Na verdade, se tentar encaixar a nossa forma de ser, digamos, se tentarem encaixar a minha forma de ser numa técnica não dá certo, porque eu vou ter de desfazer aquilo que eu sou para me moldar àquilo que a pessoa deseja. Na verdade, vai destruir aquilo que tinha antes para assumir outra forma que não é. Eu acho que, às vezes, fica mais para um tipo de bloqueio do que uma criação que seria legal, um processo saudável das coisas.
Durante o período de convivência nas terras Kaingang e Guarani, comecei a desejar saber mais sobre a minha bisavó. Sou bisneta de uma mulher que sempre ouvi dizer que era “índia”, com quem diziam que eu me parecia. Nunca soube nada sobre esta mulher, nunca foi tratado com orgulho se parecer com uma “bugra”, como chamam pejorativamente os indígenas na região de onde venho, então, durante todo esse tempo, não busquei saber nada sobre a minha bisavó.
A aproximação com as pessoas indígenas, os relatos das mulheres Kaingang sobre as violências sofridas por elas, por suas antepassadas, as histórias de mulheres que sumiram no contato com os colonizadores italianos e alemães, tudo isso me levou a querer saber quem teria sido a minha bisavó. Já não têm nenhum dos filhos dela vivos. Foi no contato com uma prima distante que consegui saber um pouco, o avô dela repetia com frequência o “romance” de seus pais. Segundo a prima, repetindo as palavras do avô, a bisavó foi uma “índia” que o bisavô pegou a cavalo. Eu desejava saber qual era seu povo, desejava voltar à sua terra de origem, desejava muitas coisas que entendi serem impossíveis a partir desta narrativa da minha prima.
Em uma conversa com Daniel Munduruku, em um seminário promovido pelo PPGAC – UFRGS, no festival Palco Giratório do Sesc, em Porto Alegre, ele disse: “tu precisa sempre contar esta história”, e me indicou a leitura de um texto seu “Minha avó foi pega a laço”. Algumas palavras desse texto foram para a dramaturgia de Terra Adorada e foi, a partir daí, que a história da bisavó levada a cavalo se tornou o fio que conduz a narrativa do espetáculo.
Desde este momento, aprofundei a pesquisa sobre as violências praticadas contra as mulheres indígenas, li o texto do Munduruku, li uma entrevista da Renata Tupinambá, que fala sobre as mulheres pegas no laço, busquei relatos do período da ditadura que falassem especialmente sobre esta questão, pesquisei notícias atuais sobre abusos contra mulheres indígenas.
Por meio do Terra Adorada foi possível conversar com outras mulheres indígenas sobre acontecimentos históricos que consequentemente traziam à tona as violências sofridas pelos povos Kaingang, Guarani e Xokleng. As dores de mulheres indígenas, mães e filhas que ao assistir sentiam que eram suas dores e traumas coloniais. Nas rodas de conversa havia um espaço que proporcionou debater e buscar fortalecer nossas lutas, acredito que houve uma preocupação em ouvir as histórias pessoais de mulheres indígenas Guarani, Kaingang, Kubeo, Pankararu, pois embora sejamos indígenas de diferentes povos, os impactos do contato com a invasão colonizadora foram devastadores e de perdas irreparáveis como a expulsão dos territórios Xokleng e perda linguística do povo Pankararu.
Lembra que na minha defesa de mestrado, que consistia na apresentação do espetáculo depois de a banca ter lido o texto que é considerado um memorial crítico reflexivo, um dos professores estava frustrado com o que via na cena? Ele considerava meu texto lindo, muito afetuoso e esperava ter visto um espetáculo também lindo e afetuoso. Mas, segundo ele, eu tinha feito um espetáculo “mal humorado”, eu falava de um “lugar de raiva”. Sugeriu-me, ainda, que perdoasse meu bisavô para poder falar de outro lugar e fazer um espetáculo tão afetivo quanto meu texto, sugeriu também que eu trouxesse para cena algum canto que possivelmente teria aprendido com os Guarani, que eu contasse as histórias que encontrei como contava no texto.
Não, definitivamente não era esse o espetáculo que eu queria fazer, não foi pra isso que os Guarani e os Kaingang me receberam e me aceitaram em suas comunidades, fizemos um pacto, eu, desde o primeiro encontro falei que queria “criticar”. Eu não escolhi aprender algum canto com eles, pegar suas histórias confidenciadas para fazer disso cena pra branco ver, apropriando-me daquilo que é deles. Se for para contarem suas histórias e cantarem seus cantos, que sejam eles mesmos a fazê-los e eu serei espectadora ou estarei à disposição para colaborar como quiserem, dos bastidores. Mas acontece que a maioria dos brancos ainda espera que seus pares que foram conviver com indígenas ou mesmo que indígenas que ocupam a cena tragam narrativas romantizadas e ações exotizadas.
O mesmo professor afirmou ainda que em Terra Adorada eu conto a história do meu bisavô branco e não da minha bisavó indígena. Ao que respondi: “Sim, eu não convivi, não herdei, não vivenciei as práticas, não falo a língua, sequer sei a que povo minha bisavó pertencia. Mas herdei os privilégios, a língua e o sobrenome do colonizador, é sobre ele que eu posso falar, que escolho falar, é pra denunciar essa violência, que me tirou o direito de saber quem era minha bisavó, porque tirou dela o direito de ser quem era.”
Eu acho que essa é uma parte importante, o que tu fez para o Terra Adorada, antes de querer retratar, antes de querer falar sobre algum povo indígena, conhecer e ter esse cuidado de respeitar os limites da cultura, daquilo que é sagrado para muitos povos, e pensar que não é porque foi na aldeia, que teve uma vivência, que pode reproduzir isso, copiar, copiar e fazer, porque, até mesmo como indígenas no teatro, a gente não faz cópia de nenhum povo, eu como indígena, não faço cópia de nenhum povo, eu faço a partir da minha vivência, da língua que é do meu povo, então acho que esse é um cuidado que nem todo mundo tem.
É a falta de cuidado por conta daquilo que quer fazer, como o professor falou, daquilo que quer usar, mas fica de uma forma utilitária, fica um uso utilitário, não tem esse afeto, cuidado, responsabilidade com o espaço que o povo abre. Muitas vezes o povo ou a aldeia não tem nem conhecimento de até onde vão essas pesquisas que são feitas, mesmo uma pesquisa para teatro, a pessoa pode ir lá observar, fazer vários comentários e a partir disso dizer que determinado povo é assim, acontece com vários povos, o cuidado não existe para muitos.
Não consigo imaginar que uma pessoa branca, por qualquer razão que seja, que conviva por um tempo com uma comunidade indígena, não seja afetada e se reveja em muitos dos seus valores e hábitos, na forma de estar no mundo. Mas não acho que pessoas brancas fazedoras de teatro devam incorporar conceitos da noção de criação na vida indígena na sua arte. Do meu ponto de vista, isto seria mais uma vez apropriação.
Tenho uma sensação semelhante ao que vejo acontecer com a Ayahuasca. Se vivencia com o povo Huni Kuin, se compra, se incorpora a outras práticas, ressignifica, canta para Cristo no Santo Daime, pros Orixás no Umbandaime, pro Grande Espírito no “Xamanismo” de referências norte-americanas e, no fim das contas, são brancos mais uma vez lucrando e “se curando” enquanto os Huni Kuin estão lá, lutando por seus direitos e territórios sem que esses mesmos brancos sejam afetados por isso. Como tu sente isso?
Essa cópia que fazem das artes indígenas e das expressões, não só artísticas, mas expressões culturais dos povos indígenas, seus cantos, suas danças, nada mais é do que uma nova exotização, a exotização feita por essa cultura branca, europeia, que inferiorizou as nossas culturas. As nossas coisas eram levadas para museus, até hoje estão nesses museus, da França, por exemplo, é uma forma de continuar roubando, sabe? Eu acho, sinceramente, isso muito desonesto com a gente, de pegar as coisas que não são deles, como apropriadores, porque a apropriação faz isso, ela pega e ressignifica e faz outra linguagem para seu uso, a questão utilitarista que falei, aí fica a exotização teatral e mal feita.
Sobre o fazer artístico, a performance, sobre o que tenho buscado nos meus outros projetos, o Terra Adorada é muito o que eu acredito que seja a arte e o contato com pessoas indígenas, para quem quer atuar junto. Eu penso nessas relações como relações orgânicas e espontâneas. Acredito que isso vá impulsionando – essas relações. Eu mesma como pessoa que faz teatro e é indígena, não tem como dizer que eu não sou indígena, porque carrego o estereótipo das minhas características, então, eu gostei de teatro a partir de outro grupo indígena que vi que gostava e que era interessante e é até hoje. Acredito muito nessa potência de buscar conhecer povos, buscar conhecer quem fala sobre arte, sobre a sua expressão como povo, acho que é nisso que a gente deve crescer. Porque viver de arte como um palco de fama, viver da fama, a gente vê que isso acontece, mas viver no Brasil que a gente vive, sabendo os contextos e colocar a arte à disposição disso, colocar as nossas escritas, as produções, vai para um patamar além daquilo que é só o bonito, só o estético, vai além do estético.
Nesse sentido, o Terra Adorada pode colaborar com a luta dos povos indígenas, porque além da gente não aparecer nas temáticas, há pouco interesse, mesmo dos estudantes de teatro que não são indígenas. Por exemplo, tu já tinha uma proximidade com os parentes, quem vai se interessar é quem está mais engajado. Outras peças que eu vi, outras produções que são do Sudeste e Sul, o disparador do interesse foi o contato e o engajamento, o conhecimento da luta indígena. Não é assim do nada que a pessoa vai dizer, isso faz parte da história do Brasil, isso faz parte da história da minha região e vai fazer um teatro sobre isso.
Então, eu acho que o teatro de denúncia, o teatro documentário ou até mesmo o ficcional, que fala sobre a luta indígena, com certeza contribui para que mais pessoas se interessem, contribuindo também para a história do teatro no Brasil. Acredito que ainda estamos nessa construção do teatro brasileiro porque o Brasil são vários brazis. É o Brasil do teatro negro, é o Brasil de um teatro que também é indígena, de um teatro de regiões, não é um Brasil só, é um Brasil contextualizado de acordo com a realidade de cada lugar e das pessoas.
Levei um longo período no processo em sala de ensaio para conseguir encontrar de que perspectiva eu falaria sobre a questão indígena. O receio de ferir a relação sagrada que havia estabelecido com os Kaingang e com os Guarani me assombrava. Quando escrevo sagrada, não me refiro às Kujã, aos Karai, às ervas, aos cantos, a Nhanderu, a Topé, me refiro à confiança que foi se estabelecendo para que eu fosse autorizada a estar e escutar relatos, histórias, a maioria delas guardadas em mim apenas, mas certamente presentes no corpo que comunica em Terra Adorada.
Eu tinha sentido muito, mas não me autorizava a falar sobre a luta indígena sem ser indígena. E foi a fala de uma Kujã, uma mulher Kaingang, a autorização que me faltava. Eu havia organizado em Porto Alegre, juntamente com alguns apoiadores, a mobilização Janeiro Vermelho, Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais. Estávamos em poucas pessoas, no máximo 30, na Esquina Democrática. Lembra que algum tempo depois que nos conhecemos tu me mandou uma foto desse dia? Ali ainda não tínhamos conversado. Com um megafone, me aproximei de Iracema Gãh Té e entreguei dizendo que era um espaço para que os indígenas falassem. Ela me respondeu: “Não, é um espaço para que vocês também falem. Porque se sou eu falando, eles olham e pensam que é só mais uma índia pedindo terra. Mas se vocês falarem eles vão pensar ‘o que esta minha parenta está falando sobre os índios’, e talvez escutem. Os de vocês, só vão ouvir se vocês falarem.” Foi por causa de Iracema, de Brasília, de Idalina, de Tuxa, de Jaxuka, de Raquel, de Renata, que Terra Adorada é.
Referências Bibliográficas:
* Terra Adorada – para informações sobre o espetáculo como sinopse, ficha técnica, trajetória, visitar o perfil de Instagram @complocunha e assistir aos seguintes vídeos: https://youtu.be/sp2cvTGalIY, https://youtu.be/Gur1s6CSxws.
* Teatro Documentário – para conhecer mais sobre este gênero teatral, sugerimos a leitura de Teatro Documentário: a pedagogia da não ficção, Marcelo Soler. Sugerimos também seguir e acompanhar o trabalho, performances, oficinas e textos de Janaína Leite.
* Pombal Arte Espaço – https://www.facebook.com/pombalarteespacoalternativo
* Bufão – para estudar um pouco sobre a teoria deste estilo teatral, sugerimos buscar publicações de Jacques Lecoq, Philippe Gaulier, Elisabeth Silva Lopes e Daniela Carmona.
* Hotxuá – é uma função cômica ritual desempenhada por homens do povo Krahô. Sugerimos buscar informações com o próprio povo e assistir o documentário Hotxuá de Letícia Sabatella e Gringo Cardia. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DkoYzErq8as
* O Silêncio do Mundo – experiência cênica realizada por Ailton Krenak e Andreia Duarte no 26 Porto Alegre em Cena. https://prefeitura.poa.br/smc/noticias/em-cena-o-silencio-do-mundo-discute-origens-indigenas , https://www.youtube.com/watch?v=FdXxBKzBATs
* Kumurõ – banco Tukano: https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/publications/TKL00004_0.pdf